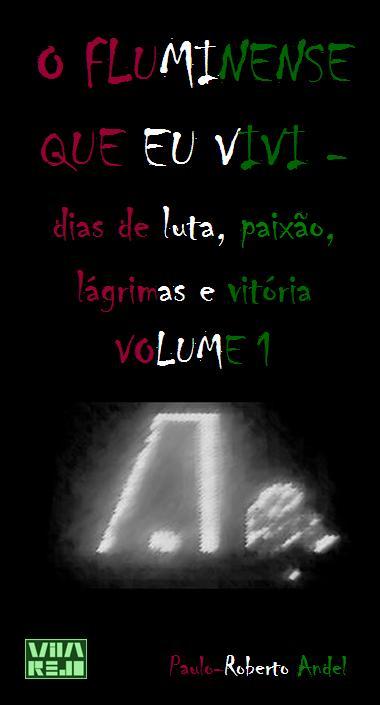1
Soró. Grande figura da Fôrça Flu – com acento circunflexo e a maior politização de todos os estádios brasileiros naqueles anos oitenta -, querido por todos. Ia para São Paulo contra o Palmeiras, não deu tempo. Foi embora ontem. Jorge Coccoli para o registro civil.
Muitas vezes nos vimos nas arquibancadas por aí, há um metro ou sessenta quilos atrás, um oi, um “tudo bem“. Amigo dos meus amigos é também meu amigo.
Um dos nossos escudos, que os mais velhos olham com admiração e falam para seus filhos ou sobrinhos no Maracanã: “Aquele ali é o fulano”. Nossa torcida é imensa, mas houve um dia em que todo mundo se conhecia por nome e sobrenome. Ou apelidos. Ainda acontece com os admiráveis maníacos presentes em todos os jogos: todo mundo se olha e se reconhece. Aquela espiadela do tipo “esse aí é um camarada”. Você chegar ao que sobrou do Maracanã e, no meio dos escombros da memória, reconhecer alguém que esteve ali perto desde a mais tenra juventude.
Rio de Janeiro, uma cidade sitiada por arrastões, facadas e toda sorte de violência estúpida. De uma minoria. A cidade é formada em sua esmagadora composição por gente de bem, trabalhadora, que por sua vez é esmagada pelo péssimo transporte, pelos engarrafamentos, as obras etecétera. O Brasil é parecido. O mundo é parecido. E o futebol?
Também vítima.

(Soró de boné azul – Acervo Antonio Gonzalez)
2
Sou de outro tempo.
Não sei dizer quando a velha e saudável rivalidade interclubes deu lugar a declarações e gestos odiosos, agressivos, primitivos. Primeiro eram uns contra os outros – o cara da torcida de lá era um inimigo a ser dizimado.
Provocação virou porrada, depois assassinato.
Resultado? Horários ruins, brigas, times fracos, ditadura da TV, flamenguesas, cartolagens, feudos particulares, o pessoal passou a ter outros passatempos. Um clássico no Rio num domingo à tarde dava fácil cem mil pessoas, depois oitenta, sessenta, quarenta. Por ora, podem lamber os beiços com vinte. Qualquer sujeito com mais de quarenta anos liga a televisão e fica deprimido na saída de bola do “novo” Maracanã – um close e aquele mar de cadeiras vazias, cenário de um sofisticado abandono. Antigamente a graça era caçoar do vizinho, do porteiro, do jornaleiro. O rapaz da padaria te sacaneava por causa do gol perdido pelo Neinha. É sério. Depois todo mundo ria, se abraçava e, três dias depois, começava tudo outra vez. Os garotos andavam com bola Dente de Leite nas ruas em grupos. Camisas do Flu, Vasco, Botafogo; agora são as do Barcelona.
Nowadays? Uns contra os próprios uns, mostrando que, em se tratando de ser humano, nada é tão ruim que não possa piorar um pouco. Ainda vamos chegar ao tempo vintage das cavernas.
No caso do Fluminense, muitão. Por diversos motivos. Todos chatos, chatos, chataralhos.
Faltam fraternidade, cumplicidade, espírito de equipe e, principalmente, respeito ao próximo, a si mesmo e ao contraditório. Falta respeito ao passado. Nem perco meu tempo em falar de redes antissociais, porque viraram meras supervias do esgoto da dialética, num mar de arrogância e ignorância tão siamesas que parecem a mesma coisa.
Um tricolor encontrava o outro na rua e logo reconhecia nele um gente fina. Diferentemente de hoje para alguns, onde às vezes o essencial é um campeonato bocó para se disputar o título de grande fopone (fodão de porra nenhuma).
E aí o futebol desandou, explicando porque a sigla LCD passou a ter tanta importância. Um jogo de bola sem a parte legal que significa seu entorno é apenas um jogo de bola. Só.
Entretanto, nem tudo está perdido. A elite intelectual do Flu ainda pode ser reconhecida na genialidade de um Ivan Lins, que acabou de fazer 70 anos nesta semana. Reconhecido mundialmente pelo talento, boa praça, politizado, elegante, Ivan é uma das nossas reservas ambientais de tricoloridade. Será que dava para a turma pesquisar no Google sobre o artista, pelo menos? Se alguém se identificar com essa hipótese, já seria algum começo.
E o time do Fluminense? Continua sendo um dos maiores do mundo e, por isso, sua tendência sempre será estar na parte de cima das tabelas – ou posições dignas -, mesmo sendo em determinadas ocasiões um Febeapá dentro e fora dos belos vitrais franceses. Ou até mesmo a grandiloquência do ridículo, a começar pela catastrófica faixa de Gaza imaginária estabelecida pelos bombons diante dos maumaus.
O time, o escudo, sua heráldica, o pó de arroz, a grande história, as grandes conquistas, o futuro cetê, tudo isso é um memorial irretocável. O problema maior é quando o passado fica bem mais interessante do que o presente. Taí o querido Soró que não me deixa mentir.
A história vai escorrendo, não somos absolutamente porra nenhuma e, definitivamente, brigar nesta merda de planeta não faz o menor sentido: melhor poupar os esforços para a luta do outro lado, se lado houver.
3
Desculpem qualquer coisa. Hoje nem era meu dia de escrever. Mas o Soró, que defendeu tantas e tantas vezes o Fluminense por aí, merecia uma pequena homenagem. Aos poucos, todos aqueles sujeitos que significavam a arquibancada do meu time, por motivos inevitáveis ou estúpidos, deixam o espaço ao lado mais vazio.
A ele, Soró, e tantos outros personagens, eu dedico meu próximo livro, “O Fluminense que eu vivi”. O título e a capa preta dizem muita coisa, mas a parte mais importante só será possível de ser entendida na leitura. Eu releio e choro. Gente como ele, Soró, era a perfeita antítese de muitas coisas que escrevi acima.
Sou de outro tempo. Sejamos teatro: merda!
Oswald de Andrade: “O Brasil é uma República Federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus.”
Panorama Tricolor
@PanoramaTri
Imagem: exulla/agonzalez